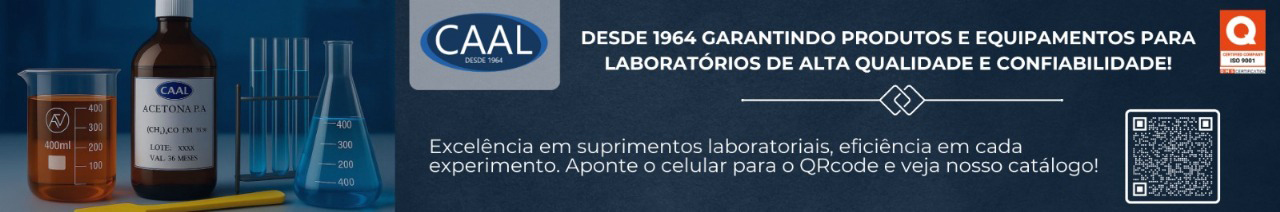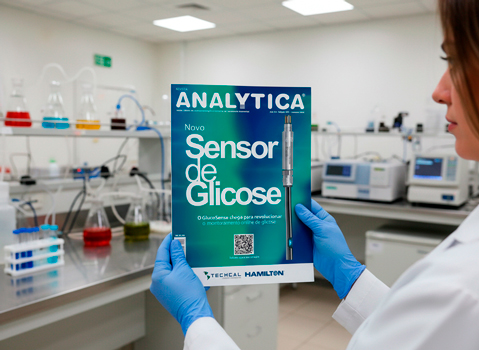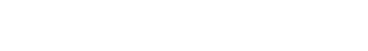A COP30 entrou na agenda mundial como um ponto de virada …
meio ambiente
-
-
Reciclagem eletroquímica de baterias LFP avança com recuperação eficiente de lítio
por Equipe AnalyticaA reciclagem eletroquímica de baterias LFP está ganhando relevância devido ao …
-
Microrganismos e Mudanças Climáticas: o Poder Invisível na Mitigação do Aquecimento Global
por Equipe AnalyticaEles não se veem, mas estão em toda parte: nos solos, …
-
Microplásticos: o desafio invisível e como a química está reinventando a solução
por Equipe AnalyticaDa poluição invisível à química regenerativa: como a ciência está transformando …
-
Microalga remove resquícios de antibióticos da água, diminuindo contaminação do meio ambiente
por Equipe AnalyticaMicroalgas da espécie Monoraphidium contortum têm a capacidade de remover da água resíduos …
-
Em um ano marcado pela seca extrema, 2024 registrou um aumento …
-
Sem chuva e com incêndios, Brasil tem cidade mais poluída do que Delhi e passa o Deserto do Saara
por Equipe AnalyticaAs queimadas e a baixa umidade do ar, agravadas pela falta de chuvas, colocaram …
-
Queimadas no Brasil: CFQ alerta para o comprometimento da qualidade do ar em diversas regiões do país
por Equipe AnalyticaO Brasil tem enfrentado uma proliferação de queimadas em diversas regiões, …
-
Metano, potente gás de efeito estufa, pode ser absorvido por bactérias nos troncos das árvores
por Equipe AnalyticaBactérias que habitam as cascas das árvores parecem ser capazes de …
-
Meio ambiente, social e governança. É assim que se traduz do …
-
Desde a Revolução Industrial, o aquecimento global é impulsionado pelas atividades …
-
TIM terá mais 130 usinas de fontes renováveis para abastecer operações até o fim do ano
por Equipe AnalyticaA TIM anunciou recentemente a expansão de seu projeto de geração …
-
Mais de 70% das empresas brasileiras não possuem certificação ambiental ou social
por Equipe AnalyticaA pesquisa divulgada pela CNN Brasil, realizada pela consultoria de inovação …
-
Pulses: conheça os superalimentos que contribuem para a segurança alimentar e o meio ambiente
por Equipe AnalyticaAinda que você não saiba o significado de “pulse”, é provável …
-
Brasil atinge marca de 750 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas destinadas corretamente
por Equipe AnalyticaO Sistema Campo Limpo, gerido pelo Instituto Nacional de Processamento de …
-
Movimento reciclará 500 mil copos plásticos descartados na 98ª Corrida de São Silvestre
por Equipe AnalyticaDurante a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, em São …
-
COP28: indústrias de cana, celulose, mineração e petróleo assinam acordo para reduzir emissões
por Equipe AnalyticaAs associações que representam as indústrias de cana-de-açúcar e bioenergia, papel …
-
Modelo de design ecológico transforma desenvolvimento de produtos nas indústrias
por Equipe AnalyticaUm trabalho da Escola de Engenharia de São Carlos da (EESC) …
-
“Muito além da chuva”: educação é chave para prevenção de desastres socioambientais
por Equipe AnalyticaDe acordo com a Organização Mundial Meteorológica (OMM), há grandes chances …
Leia a Revista Digital
Notícias
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6