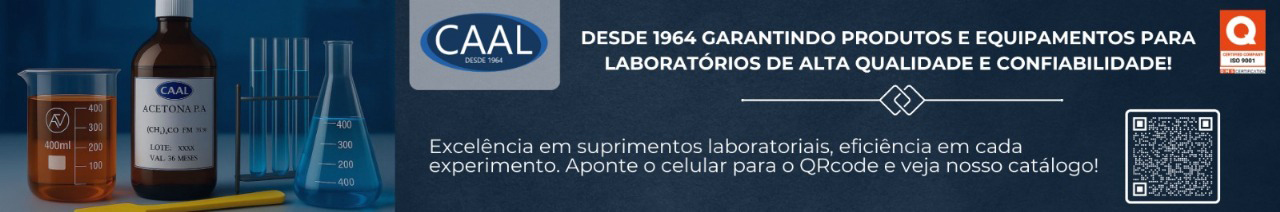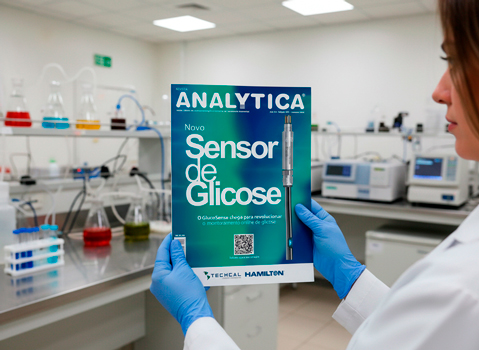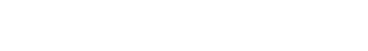A revista Analytica inicia 2026 com o lançamento de sua edição …
Tag:
instrumentação
-
-
Ao avaliar as transformações no ramo da metrologia, nota-se que estamos …
-
Por Mauricio Ferraz de Paiva A utilização de alvenaria em blocos …
-
Software de gestão criado por técnico do Inmeq-MA é apresentado em curso do Inmetro
por Fernando DiasUma boa idéia e a vontade de empreender foram suficientes para …
-
FAPESP e Agilent disponibilizam até R$ 1,14 milhão para pesquisa sobre instrumentação e medições analíticas em saúde
por Fernando DiasWorkshop em 30/8 discutirá temas de interesse da Chamada de Propostas …
-
Os problemas com a carne brasileira envolvem procedimentos, exames que detectam …
-
A tecnologia de RFID (radio frequency identification – identificação por radio …
-
A oximetria de pulso é a maneira de medir quanto oxigênio …
Leia a Revista Digital
Notícias
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6