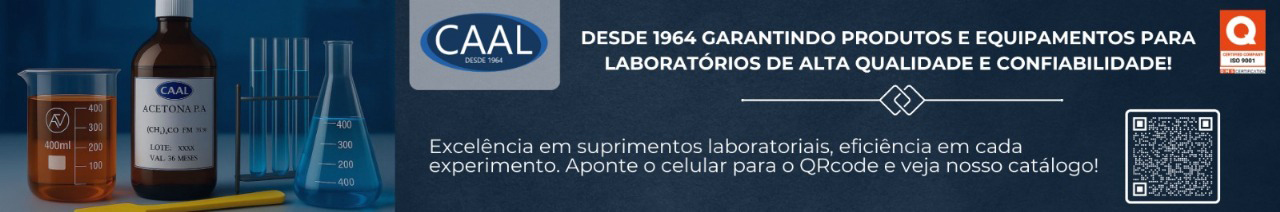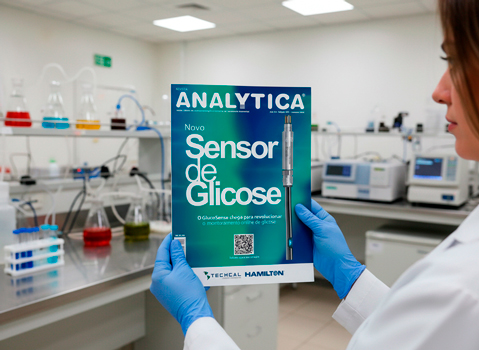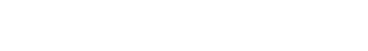Em um avanço que pode redefinir o futuro do hardware para …
nanotecnologia
-
-
Descoberta revoluciona a física dos materiais, revelando um estado híbrido onde átomos ficam imóveis em metais líquidos
por Equipe AnalyticaNovos resultados em física da matéria desafiam concepções tradicionais sobre líquidos …
-
Grafeno de nova geração amplia os limites do armazenamento de energia e redesenha o futuro dos supercapacitores
por Equipe AnalyticaA ciência dos materiais vive um momento decisivo. Pesquisadores da Monash …
-
Microplásticos: o desafio invisível e como a química está reinventando a solução
por Equipe AnalyticaDa poluição invisível à química regenerativa: como a ciência está transformando …
-
Terapia gênica: nanotecnologia é aliada no tratamento de diferentes doenças cutâneas
por Equipe AnalyticaRecentemente, o Hemocentro de Ribeirão Preto da USP pediu autorização à …
-
Formulação de baixo custo diminui a dose e aumenta a eficácia de medicamento contra verminose
por Equipe AnalyticaUm grupo de pesquisadores apoiado pela FAPESP criou uma nova formulação …
-
Coral invasor é resistente a compostos biocidas usados em tintas de navios e plataformas, revela estudo
por Equipe AnalyticaFazer com que navios e plataformas de petróleo durem mais e, …
-
Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Instrumentação e da …
-
Você realiza pesquisas e quer usar os mesmos equipamentos como os ganhadores do Prêmio Nobel? Conheça nosso sistema Octet®.
por Equipe AnalyticaVocê sabia que os ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia / …
-
Por Prof. Dr. Marcos Roberto Ruiz A ciência, de forma …
-
Imagine um fertilizante bem diferente, puro, atóxico e capaz de enriquecer …
-
Imagine uma membrana capaz de filtrar contaminantes difíceis de serem removidos …
-
A nanotecnologia está produzindo um impacto nunca antes presenciado em alimentos, …
-
Lançando mão de equipamentos únicos na América Latina, SENAI inaugura Instituto de Inovação em Biossintéticos e Fibras
por Equipe AnalyticaTecidos que não pegam fogo ou produzidos com pêlos de cães, …
-
A Analitica Latin America é um dos principais pontos de encontro …
-
Analitica Latin America recebe o lançamento da Associação Brasileira de Nanotecnologia, a Brasil Nano
por Equipe AnalyticaA 15ª edição da Analitica Latin America receberá um time de …
-
O mais importante evento na área de nanotecnologia no Brasil, a …
-
Ômega 3 hidrossolúvel para substituir cápsulas é desenvolvido por empresa Startup e USP
por Equipe AnalyticaA dificuldade do idoso em engolir medicamentos levou uma startup de …
-
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 73% das …
- 1
- 2
Leia a Revista Digital
Notícias
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6