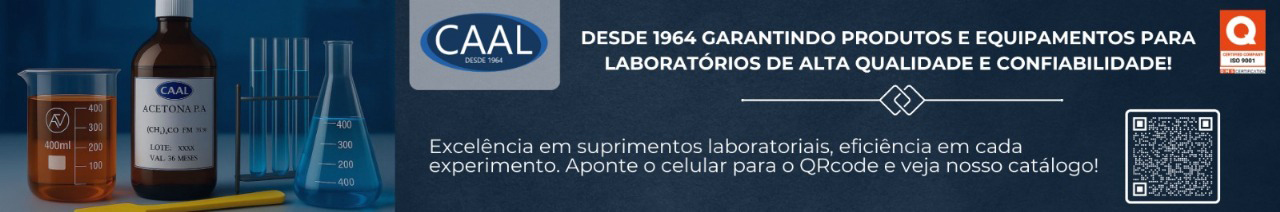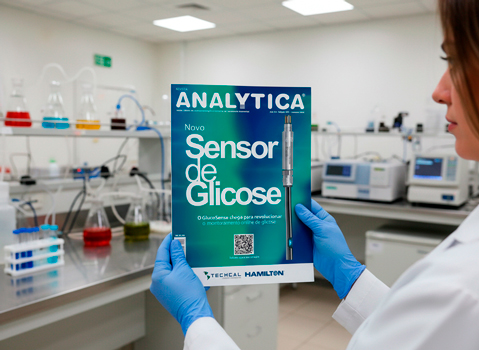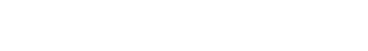Pesquisadores do Instituto de Química (IQ) da USP participaram de estudo …
Tag:
bacteria
-
-
Um estudo identificou substância da própolis verde com alto poder contra …
-
Nos anos de 2019 e 2020 tivemos a notícia de recall …
-
No mês de dezembro de 2020 foi publicado um anúncio em …
-
Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da …
Leia a Revista Digital
Notícias
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6