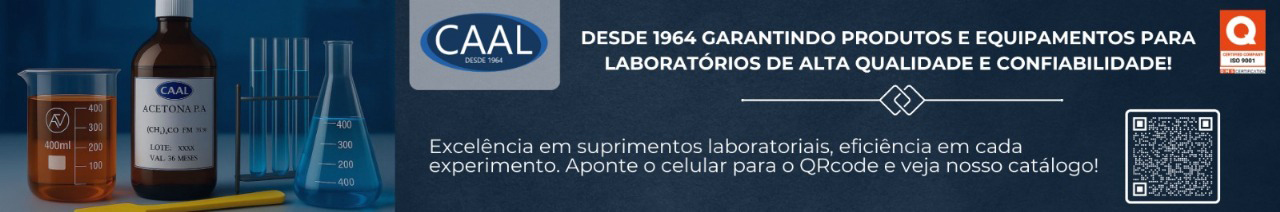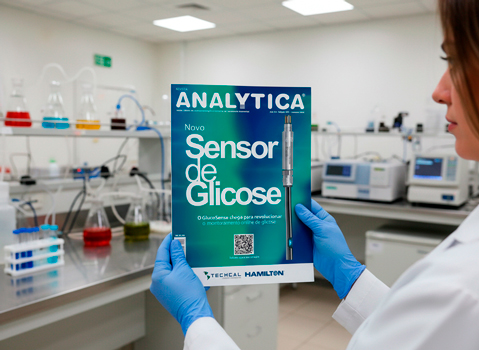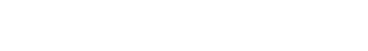Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Técnica …
Agência FAPESP
-
-
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram uma nova abordagem …
-
Uso excessivo de água no Matopiba pode comprometer até 40% da capacidade futura de expansão da irrigação
por Equipe AnalyticaConsiderada uma das fronteiras agrícolas que mais crescem no Brasil e …
-
Pesquisadores do Brasil e da Itália buscam novas drogas para tratar Alzheimer em resíduos industriais
por Equipe AnalyticaAutointitulada uma entusiasta da colaboração Brasil-Itália, a pesquisadora Laura Bolognesi criou …
-
Pesquisadores brasileiros trabalham para transformar o agave na ‘cana do sertão’
por Equipe AnalyticaAs mudanças climáticas têm causado um aumento da região com clima …
-
Estudo propõe que proteínas possam se compartimentalizar e formar gotículas no interior das células
por Equipe AnalyticaEm física, um sistema composto por duas substâncias pode ser modelado …
-
Material biodegradável desenvolvido na Unicamp controla inflamação associada a implante dentário
por Equipe AnalyticaPesquisadores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de …
-
Material libera fertilizante para plantas de forma controlada e se degrada após 90 dias
por Equipe AnalyticaPesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolveram, em parceria …
-
Em busca de vacina mais eficaz, cientistas monitoram mutações do vírus da gripe em amostras de esgoto
por Equipe AnalyticaO Institut Pasteur de São Paulo (IPSP) criou em julho um …
-
Método desenvolvido na USP permite estudar impacto de níveis elevados de CO2 atmosféricos na saúde
por Equipe AnalyticaNíveis elevados de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera podem alterar …
-
O polêmico uso de geoengenharia solar no combate ao aquecimento global é tema de Pesquisa FAPESP
por Equipe AnalyticaA injeção de aerossóis na atmosfera terrestre é uma das estratégias …
-
Setor agrícola é estratégico nas ações de mitigação das mudanças climáticas, diz cientista da Nasa
por Equipe AnalyticaAs tendências atuais são incompatíveis com um mundo sustentável e equitativo; …
-
Estudo publicado na revista Applied Soil Ecology analisou o impacto da …
-
FAPESP e Claro vão apoiar centro de pesquisa com foco em conexão 5G e IA generativa
por Equipe AnalyticaFAPESP e Claro lançaram ontem (21/08) uma chamada de propostas para …
-
Cientistas usam cinzas geradas pela queima do bagaço da cana para recuperar nutrientes da vinhaça
por Equipe AnalyticaO Brasil é responsável por 8% do consumo mundial de fertilizantes, …
-
Sistemas agropecuários sustentáveis ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa
por Equipe AnalyticaEstudo conduzido na Universidade de São Paulo (USP) buscou avaliar em …
-
Explosões solares são eventos extremamente intensos que ocorrem na atmosfera do …
-
As plantas do Cerrado evoluíram, ao longo de milhares de anos, …
-
Coral invasor é resistente a compostos biocidas usados em tintas de navios e plataformas, revela estudo
por Equipe AnalyticaFazer com que navios e plataformas de petróleo durem mais e, …
Leia a Revista Digital
Notícias
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6